Imagine que, num período de um ano, todas as árvores e todos os minerais no subsolo da Terra Indígena Yanomami, a maior do Brasil, sejam arrancados. As árvores seriam vendidas para virar móveis, casas, papel, lenha ou objetos de design em galerias de arte. O ouro, um metal resistente, seria comprado para a criação de joias, para a confecção de conectores usados na fabricação de produtos eletrônicos ou para ser guardado como reserva de riqueza. Da cassiterita seria extraído o estanho, utilizado para fazer latas, peças de automóveis, vidro e telefones celulares. No ano em que tudo o que é Natureza na Terra Yanomami fosse transformado em mercadoria, a região contribuiria para o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil.
O PIB cresceria, os economistas comemorariam, a imprensa daria manchetes positivas, a “nota” do Brasil nas agências de avaliação de risco de investimentos poderia até aumentar, o governo receberia uma avaliação mais positiva do “mercado”. Enquanto isso, a conversão em mercadoria dos 96 mil quilômetros quadrados da Terra Indígena Yanomami – o equivalente aos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo juntos – teria impacto na vida de todo o planeta. A Floresta Amazônica chegaria ainda mais perto do ponto de não retorno, as emissões de gases de efeito estufa que produzem o aquecimento global se multiplicariam, o regime de chuvas seria afetado, milhões de plantas, animais e fungos morreriam e espécies desapareceriam, as cerca de 31 mil pessoas humanas na Terra Yanomami já não poderiam mais viver ali. O fim da terra-floresta dos Yanomami representaria a queda do céu que eles tanto se esforçam para segurar – um céu que ao desabar atingirá todas as pessoas, humanas e não humanas.

O MEDO DOS YANOMAMI DE QUE SUA FLORESTA VIRE MERCADORIA TEM ORIGEM EM SÉCULOS DE EXTRATIVISMO PREDATÓRIO EM NOME DO LUCRO. FOTO: PABLO ALBARENGA/SUMAÚMA
O PIB, é importante lembrar, não traduz a “riqueza” de um lugar, em termos mais amplos, tampouco diz se os produtos são de fato necessários ou mede se as consequências ambientais e sociais dessas atividades são boas ou más. O PIB é uma soma do preço final de todos os produtos e serviços produzidos em determinado período, em geral de um ano. O crescimento – ou não – do PIB é tema frequente das manchetes da imprensa, do discurso dos economistas, de políticos no Congresso e no governo. Que o PIB precisa crescer tem sido uma certeza mais forte do que os dogmas de muitas religiões. A demora em questionar esse dogma e construir alternativas coletivamente está nos levando ao colapso da vida.
A conversão total da Terra Indígena em mercadoria é ainda um cenário hipotético graças à resistência dos povos Indígenas e de seus aliados. Mas a transformação da Natureza em produtos de consumo é real, contínua e ativa em quase todos os biomas que ainda sobrevivem no planeta, agravando o aquecimento global e contribuindo para o aumento da frequência e da gravidade dos eventos climáticos extremos. Os questionamentos do dogma do crescimento do PIB têm pouco ou nenhum espaço na maioria dos centros de poder, dos Parlamentos e governos à imprensa e à universidade. Mas existem. Mais do que nunca, é urgente escutá-los e debatê-los.
Intelectuais e movimentos socioambientais de diferentes partes do mundo têm alertado sobre o fato de que, para deter o colapso da vida, é urgente pôr em xeque o capitalismo e sua lógica do crescimento infinito. Três correntes principais lideram essa discussão: a do “decrescimento”, com presença mais forte nos países materialmente ricos, em especial na Europa; a do “pós-extrativismo”, que nasceu das lutas em defesa dos territórios coletivos e da Natureza em países da América Latina; e a do “ecossocialismo”, formada por marxistas críticos ao sistema que existiu no antigo bloco soviético.
Essas correntes dialogam entre si, embora sejam heterogêneas internamente e não pensem igual sobre o que poderia ser um sistema alternativo. Porém, todas defendem a tese de que o crescimento da produção e do consumo, tal como medido pelo PIB, não pode ser o critério de bem-estar numa sociedade que seja sustentável. Nos países do Sul Global – as nações que já foram chamadas de “Terceiro Mundo” ou de “periferia” – também há questionamento da ideia de desenvolvimento como uma reprodução do modelo dos países ricos, além de uma demanda de mudança radical do sistema econômico e financeiro internacional.
Por uma economia compatível com a vida
As críticas ao PIB são antigas, e mesmo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, alerta em seu site: “[O PIB] ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores, como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país tanto pode ter um PIB pequeno e ostentar um altíssimo padrão de vida, como registrar um PIB alto e apresentar um padrão de vida relativamente baixo”.
Os proponentes de uma economia compatível com a sobrevivência da vida no planeta, porém, vão além disso. Em vários dos seus escritos, o economista grego Giorgos Kallis e o antropólogo econômico nascido em Essuatíni (antiga Suazilândia) Jason Hickel, dois dos principais teóricos do decrescimento, afirmam que a solução não estaria em simplesmente substituir o PIB por outro indicador se a lógica do crescimento contínuo, própria do capitalismo, continuar intocada.
Diferentemente do que acontecia nas trocas comerciais que sempre existiram nas sociedades humanas, o capitalismo é movido pela busca incessante da acumulação de dinheiro por meio do lucro. Parte desse lucro é então investida na produção de novos bens e serviços, criando novas necessidades de consumo. Isso gera um crescimento exponencial porque incide sobre crescimentos anteriores – se o PIB de um país crescer 3% durante todos os anos, em 23 anos ele vai dobrar de tamanho.
O lucro vem da diferença entre o que se gasta para produzir um bem ou um serviço e o preço deles. Essa diferença é maior quando o trabalhador ganha menos porque parte do seu sustento não é remunerada – como os cuidados com a saúde, os filhos ou a casa – ou quando seu trabalho é substituído por máquinas movidas a energia. Essa energia é arrancada da Natureza, como aconteceu de forma veloz com o uso de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) a partir da Revolução Industrial, no século 18. Para que o lucro seja maior, a Natureza também tem que ser “barata”. A hipótese em que a Terra Yanomami é inteiramente transformada em mercadoria já aconteceu maciçamente nos primórdios do capitalismo, com as invasões coloniais por países europeus, e continua acontecendo em territórios de onde são tiradas matérias-primas.
No livro Less Is More: How Degrowth Will Save the World (Menos é mais: como o decrescimento vai salvar o mundo), publicado em 2020 e sem tradução no Brasil, Jason Hickel argumenta que é preciso virar essa lógica de cabeça para baixo. “O que importa não é aumentar a produção agregada; o que importa é o que estamos produzindo, se as pessoas têm acesso às coisas de que precisam para viver vidas decentes, e como a renda é distribuída”, escreve o professor da Universidade Autônoma de Barcelona e professor visitante da London School of Economics.
Estudiosos como ele acreditam que é necessário mudar as premissas do sistema econômico para que as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e de proteção da biodiversidade estipuladas em acordos internacionais possam ser atingidas.

MENOS CARROS E MAIS TRANSPORTE COLETIVO, DEFENDEM DECRESCIMENTISTAS, AO ALERTAR QUE ‘CRESCIMENTO VERDE’ É UMA IMPOSSIBILIDADE. FOTO: JIM WATSON/AFP
Sem mudança radical, a temperatura poderá aumentar até 3 graus
Em 2015, no Acordo de Paris, os países se comprometeram a tomar medidas para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e impedir que a temperatura média do planeta aumentasse mais do que 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Para ter segurança mínima, o aumento da temperatura deveria ser menor do que 1,5 grau Celsius. Em 2022, no Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal, os países se comprometeram a conservar 30% dos biomas naturais terrestres e aquáticos e a restaurar 30% dos já degradados até 2030.
No entanto, os objetivos climáticos estão longe de ser alcançados e os de proteção da biodiversidade ficarão comprometidos se o ritmo da exploração da Natureza continuar igual ao de hoje. E ambos – clima e biodiversidade, ou clima e Natureza – estão ligados.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente publica todo ano um relatório sobre a “lacuna de emissões” – ou seja, o quanto falta para alcançar a redução prometida no Acordo de Paris. O relatório de 2024, divulgado em outubro, estima que, para impedir o aumento da temperatura do planeta além de 1,5 grau Celsius, seria necessário cortar as emissões de gases de efeito estufa em 42% até 2030 e em 57% até 2035, em relação aos níveis das emissões de 2019. Porém, ainda que todos os países cumpram as promessas feitas até agora, a redução máxima em 2030 será de 10%. Muito, mas muito abaixo do necessário.
A consequência, afirma o documento, será um aumento da temperatura entre 2,6 graus e 3,1 graus Celsius ainda neste século. Se com um aumento de 1,5 grau os eventos climáticos extremos têm arrasado pontos tão distantes quanto Porto Alegre, no Brasil, e Valência, na Espanha, é fácil imaginar o que significa para a vida um aumento de temperatura dessa proporção.
A queima de combustíveis fósseis é responsável por 75% das emissões de gases de efeito estufa. Na Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima de 2023, no petroestado de Dubai, os países prometeram pela primeira vez “transitar para longe dos combustíveis fósseis” na geração de energia e triplicar a produção de energia renovável. A Agência Internacional de Energia acompanha o cumprimento dessas promessas. Seus números mostram que, apesar do crescimento da energia gerada a partir do Sol, dos ventos e da biomassa, o consumo de combustíveis fósseis está longe da redução de 25% que seria necessária até 2030. Ao contrário, continua crescendo.
E não é só isso. Em março de 2024, um relatório do Painel de Recursos das Nações Unidas mostrou que o uso de “recursos materiais” da Natureza – o que inclui minerais metálicos e não metálicos (como areia e calcário), combustíveis fósseis, plantações, pastagens e madeira – aumentou três vezes e meia: de 30 bilhões de toneladas para 107 bilhões de toneladas por ano, entre 1970 e 2024. É um uso tremendamente desigual: os países ricos consomem seis vezes mais do que os mais pobres. O Brasil está entre os países que mais extraem esses materiais, com 4,8 bilhões de toneladas em 2020. Boa parte do que é retirado da Natureza no Brasil é vendida para o exterior – o país é o terceiro maior exportador de Natureza transformada em mercadoria.
Não apenas ignorar o PIB, mas um tipo diferente de sociedade
O relatório do painel da ONU projeta que o consumo de materiais em geração de energia, construção civil, transportes e alimentação pode crescer mais 60% até 2060, para cerca de 170 bilhões de toneladas por ano. O crescimento ocorre também por causa da demanda por minérios para a fabricação de placas solares, turbinas de geração de energia eólica e baterias para carros e sistemas elétricos. Os custos para o meio ambiente seriam insuportáveis, diz o documento, a não ser que haja um “desacoplamento absoluto” entre o uso desses materiais e o crescimento econômico nos países de renda alta (como é o caso dos Estados Unidos e da Europa) e renda média alta (como é o caso da China e do Brasil) – ou seja, que a quantidade de materiais usada e as emissões de gases de efeito estufa diminuam enquanto a economia continua crescendo, no que seria o chamado “crescimento verde”.
Os defensores do decrescimento apresentam estudos que mostram que essa conta não fecha. Não é viável, argumentam, manter um aumento indefinido da produção e do consumo e, ao mesmo tempo, conservar a Natureza e substituir os combustíveis fósseis pelos renováveis. Num exemplo simples, isso significa que a solução não é que os cerca de 94 milhões de automóveis fabricados por ano sejam elétricos – mas sim cada vez mais trocar o transporte individual pelo coletivo.
No livro Less is More, Jason Hickel define o decrescimento como uma “redução planejada” do uso excessivo de materiais e de energia, a fim de recolocar a economia “em equilíbrio com o mundo da vida, ao mesmo tempo que a renda e os recursos são distribuídos de maneira mais justa, liberando as pessoas de trabalho desnecessário e investindo nos bens públicos de que as pessoas precisam para florescer”. Ele sublinha que não está propondo o que seria simplesmente uma queda do PIB, mas sim que essa medida seja ignorada para a construção de um tipo diferente de sociedade, em que as pessoas teriam mais tempo livre para cuidar dos outros e de si próprias – e consumiriam apenas o essencial.
Hickel e outros pesquisadores sugerem medidas de transição para que esse objetivo seja atingido, primeiramente nos países financeiramente ricos, responsáveis históricos pelo colapso do clima e da Natureza. Para mudar a produção, elas vão do fim da “obsolescência programada” – quando produtos são fabricados para durar pouco tempo – à imposição de limites para o financiamento bancário a atividades que hoje dão muito lucro, como a exploração de petróleo e as indústrias de armas, jatinhos e carne. Para evitar o desemprego e distribuir renda, as propostas incluem a universalização e a desprivatização da saúde, da educação e do transporte público; a redução da semana de trabalho; a garantia de emprego nos serviços públicos e nos setores “verdes” da economia; e o cancelamento das dívidas das famílias com educação e moradia.
Um manifesto por um “decrescimento ecossocialista”, publicado em 2022 na revista socialista americana Monthly Review e reproduzido no blog da editora brasileira Boitempo, também detalha algumas prioridades. “A primeira e mais urgente medida é a eliminação gradual de combustíveis fósseis. O mesmo se aplica ao consumo conspícuo e desperdiçador dos 1% mais ricos”, diz o texto. “Muitas formas de produção (tais como instalações que operam a carvão) e serviços (como publicidade) devem não apenas ser reduzidas, mas efetivamente suprimidas; alguns setores industriais, tais como os de automóveis particulares ou criação de gado, devem ser substancialmente reduzidos; mas outros precisariam ainda ser desenvolvidos: agricultura agroecológica, energia renovável, serviços de saúde e educação etc. Para setores como a saúde ou a educação, esse desenvolvimento deve ser, antes de mais nada, qualitativo”, continua o manifesto. “E mesmo as atividades mais úteis precisam respeitar os limites do planeta. Não pode haver algo como uma produção ‘ilimitada’ de nenhum bem.”
Entre os signatários do manifesto está a socióloga e economista política brasileira Sabrina Fernandes, diretora de pesquisas do Instituto Alameda. Ela afirma que a questão é “reajustar o ‘orçamento material’ do planeta, permitindo uma redistribuição de capacidades”. “Países do Norte precisam reduzir e muito suas demandas energéticas, por exemplo através de uma transição coordenada, que permita aumentar o consumo energético para prover qualidade de vida no Sul. Mas, claro, sem fantasias na periferia mundial de que devemos ascender em consumo aos níveis do modo de vida imperial que predomina no Norte”, diz Sabrina Fernandes a SUMAÚMA.
Ela ressalta: “A conta ainda tem que fechar em termos de redução global, portanto o Norte precisa reduzir bastante, para criar espaço para o Sul, que por sua vez também deve se engajar em uma transição justa para que seu aumento de consumo material traga enormes ganhos de qualidade sem romper limites metabólicos” – isto é, sem gerar mais poluição do que a Natureza é capaz de absorver.

PAÍSES DO NORTE TÊM QUE REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA E OS DO SUL NÃO PODEM SEGUIR SEU MODELO, DIZ SABRINA FERNANDES. FOTO: RAQUEL PELLICANO
Numa entrevista em 2018 ao European Green Journal, Giorgos Kallis, que é professor da Universidade Autônoma de Barcelona, foi questionado sobre se o capitalismo poderia acomodar o fim do crescimento. Em tese sim, respondeu ele, mas seria “um capitalismo horrível”. “Sem crescimento, você fica com um bolo menor para distribuir, e sob o capitalismo essa distribuição provavelmente seria favorável a quem tem mais poder. A estagnação sob o capitalismo leva à explosão da dívida, e à austeridade para proteger os lucros”, explica. “Ao mesmo tempo, eu não sou do tipo de socialista que argumenta abstratamente que antes temos que nos livrar do capitalismo para que algo melhor apareça. Precisamos fazer propostas e buscar e pressionar por reformas começando do ponto em que estamos. Mas certamente se todas as reformas que pessoas como nós propomos fossem implementadas, um sistema que poderia acomodar essas reformas não seria capitalista em nenhum sentido significativo do termo.”
A impossibilidade do crescimento infinito é debate antigo, mas abafado
Num artigo de 2017, Giorgos Kallis lembra a definição do que é economia do pensador austríaco Karl Polanyi (1886-1964), um crítico do livre mercado e autor da obra clássica A Grande Transformação (editora Contraponto). Polanyi, na síntese feita por Kallis, definiu a economia como o processo pelo qual “humanos transformam seu meio ambiente material para prover suas necessidades”. Essa definição é útil para pensar na origem da ideia de que existem limites para o que os humanos podem fazer sem alterar o funcionamento da Terra e pôr a vida no planeta em risco.
Essa ideia começou a ser discutida nos anos 1960 e 1970. O pioneiro mais conhecido é o romeno Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), professor nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1971, ele publicou um livro, The Entropy Law and the Economic Process (A lei da entropia e o processo econômico). Georgescu-Roegen usou conceitos da física para argumentar que a Terra tinha uma capacidade finita de assimilar, sem mudar seu equilíbrio, o “lixo” que os humanos geram ao transformar a Natureza em energia e produtos. Um exemplo óbvio desse “lixo” produzido pelos humanos é o gás carbônico liberado na atmosfera quando petróleo, carvão e gás são queimados ou quando uma floresta é derrubada.
Em 1972, o Clube de Roma, formado por acadêmicos, políticos e empresários, publicou um relatório que fez muito barulho e marcou as discussões na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, a primeira da ONU sobre ecologia, em Estocolmo, na Suécia. Elaborado por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, o estudo se chamava “Limites do Crescimento” e afirmava que o planeta não poderia suportar o crescimento ilimitado da economia e da população.
“Limites do Crescimento” foi atacado pelos principais economistas da época, que diziam que o problema poderia ser solucionado pela inovação. Já os países financeiramente mais pobres viam no relatório argumentos para bloquear seu desenvolvimento. Nem a esquerda nem a Igreja Católica gostaram da sugestão de um controle forçado da natalidade, que evocava as ideias de Thomas Malthus (1766-1834), o filósofo inglês que atribuía a pobreza à superpopulação. Para Jason Hickel, um dos problemas do estudo é que sua preocupação era com uma suposta finitude dos materiais da Natureza de que a economia precisa para crescer, e não com a degradação dos ecossistemas que o crescimento infinito provoca.
Cinco anos depois, em 1977, o economista estadunidense Herman Daly (1938-2022) publicou Steady-State Economics (Economia do estado estável). O livro atualizou uma ideia que vinha sendo debatida desde o século 19: a de que, a partir de um determinado estágio de abundância material, o foco deveria ser o desenvolvimento “qualitativo”, e não mais quantitativo. Daly também elaborou a tese, popular entre ecologistas, do “crescimento não econômico”, que acontece quando o custo ambiental e social é maior do que o dos bens e serviços produzidos.
Numa entrevista em 2018 à New Left Review, uma publicação britânica, ele reconheceu que uma “economia estável” poderia ser inviável sob o capitalismo, mas disse que esse era o sistema existente e que então seria preciso “tirar o seu poder de provocar danos”. Daly deixou claro que sua proposta deveria ser aplicada nacionalmente por um Estado forte. Afirmou também que considerava precipitado pensar numa redistribuição de riquezas em nível mundial – isso implicaria, argumentou, um “governo mundial”, e ele não tinha “confiança em instituições globais”.
Georgescu-Roegen e Daly são considerados pioneiros da “economia ecológica”, ao lado do catalão Joan Martínez-Alier, autor do livro O Ecologismo dos Pobres (Editora Contexto), no qual introduz no debate as resistências de comunidades à exploração da Natureza. Martínez-Alier é professor emérito do Instituto de Ciência e Tecnologia Ambientais da Universidade Autônoma de Barcelona, a mesma onde Hickel e Kallis atuam.
Orientada em parte do seu doutorado por Martínez-Alier, a professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Beatriz Saes também é presidenta da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. “O Herman Daly nunca gostou de falar que necessariamente seria uma mudança de sistema econômico. Ele dizia que tem que ir fazendo as mudanças, e o que vai ser no final não sabemos, e não importa. Já no decrescimento, ao contrário, sempre teve essa ideia pós-capitalista”, explica a SUMAÚMA.
Na cronologia feita pelo movimento, a palavra “decrescimento” foi cunhada em 1972 pelo filósofo austríaco-francês André Gorz (1923-2007), autor, entre muitos livros, de Écologie et Politique (Ecologia e política), de 1975, e Écologie et Liberté (Ecologia e liberdade), de 1977. Segundo esses registros, Gorz perguntou: “Será o equilíbrio da Terra – para o qual a ausência de crescimento ou mesmo o decrescimento da produção material são uma condição necessária – compatível com a sobrevivência do sistema capitalista?”. Para Gorz, um socialismo que não contemplasse a igualdade sem crescimento nada mais seria do que “a continuação do capitalismo por outros meios”.

O FILÓSOFO DE ESQUERDA ANDRÉ GORZ, QUE CUNHOU NOS ANOS 1970 A PALAVRA “DECRESCIMENTO”, COM A MULHER, DORINE. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
O decrescimento ressurge com os protestos antiglobalização
A palavra hibernou durante quase 30 anos, período do fim do chamado “socialismo real” e da ascensão do neoliberalismo. Muitos dos freios ao capitalismo existentes nos países ricos foram suspensos, e a desregulação também foi imposta às nações do Sul Global. A liberalização das finanças e do comércio deslocou boa parte da “produção suja” para países “emergentes” como a China, como lembra Beatriz Saes, em mais uma transferência dos custos ambientais do crescimento.
No início dos anos 2000, em meio aos protestos antiglobalização, a ideia do decrescimento ressurgiu na França e se espalhou pela Europa, ganhando novo impulso a partir da crise financeira global de 2008, iniciada nos Estados Unidos. Um dos intelectuais que a popularizaram foi o economista francês Serge Latouche, autor do Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno (editora Martins Fontes), publicado em 2007. No livro, ele define o decrescimento como um “slogan político”, que “só pode ser considerado (…) no âmbito de um sistema baseado em outra lógica”, uma sociedade “em que se viverá melhor trabalhando e consumindo menos”.
Crítico das políticas de desenvolvimento patrocinadas pelas antigas potências coloniais na África, Latouche propõe sete princípios para essa mudança, entre eles a “reconceituação” de termos como riqueza e pobreza, que desconsideram o que é importante para a vida e que está fora do mercado.
Latouche costuma falar da necessidade de “descolonização do imaginário”, dominado pela sociedade de consumo ocidental, e se insurge contra o termo “desenvolvimento sustentável”, que considera uma impostura destinada a fazer com que nada mude. Ele lamenta que, nas Nações Unidas, a expressão tenha sido consagrada em detrimento de “ecodesenvolvimento”, termo que considera “mais neutro” e que havia sido proposto por Maurice Strong, o primeiro diretor-executivo do Programa da ONU para o Meio Ambiente. “O decrescimento foi lançado explicitamente como uma ‘palavra-míssil’ para repolitizar o ambientalismo e acabar com o consenso despolitizante sobre o desenvolvimento sustentável”, explica um dos artigos do livro Decrescimento, Vocabulário para um Novo Mundo (Tomo Editorial).
Paralelamente, a discussão foi influenciada por acadêmicos que recuperaram escritos do velho Karl Marx (1818-1883) e do seu parceiro intelectual, Friedrich Engels (1820-1895). A partir deles, desenvolveram o conceito de “ruptura metabólica” – distúrbios provocados pelas atividades humanas nos ciclos naturais que tornam possível a vida na Terra. São nomes como os do sociólogo John Bellamy Foster e do economista Paul Burkett (1956-2024), ambos estadunidenses, e mais recentemente do filósofo japonês Kohei Saito.
Dois dos livros de Saito, O Ecossocialismo de Karl Marx e O Capital no Antropoceno, foram publicados no Brasil pela editora Boitempo. Ele propõe o “comunismo do decrescimento”, baseado na ideia de “abundância de bens públicos” ou “abundância radical”. É uma contraposição à “escassez artificial” criada pelo capitalismo – a falta de moradias, por exemplo, aumenta quando bairros são ocupados por imóveis de luxo, muitos usados como reserva de patrimônio pelos ricos, obrigando os que têm menos dinheiro a se mudar para mais longe. “Podemos ter abundância de educação, transportes, internet, essencialmente fazendo com que essas coisas deixem de ser mercadorias”, disse Saito à New Left Review.
O site Climate & Capitalism, editado pelo canadense Ian Angus, costuma divulgar as teses dos ecossocialistas. As diferenças entre eles e os decrescimentistas são sutis. A principal delas é que os ecossocialistas veem o decrescimento planejado como uma estratégia para chegar ao socialismo, enquanto os proponentes do decrescimento preferem não rotular o sistema que existiria em um mundo compatível com os limites ecológicos.
Durante algum tempo, os decrescimentistas evitavam traduzir seu slogan em propostas de políticas públicas. “No seu primeiro grande encontro na Europa, em 2008, eles se propõem como um movimento social”, conta Beatriz Saes. A ideia era a de que as transformações não podiam ser ditadas de cima para baixo, mas construídas de baixo para cima, a partir, por exemplo, de coletivos de moradia ou cultivo de alimentos. O ideal de que uma vida mais simples, comunitária e autônoma em relação ao mercado é melhor, ainda que não houvesse a emergência climática, é forte no movimento.
Nos últimos anos, porém, pessoas como Hickel e Kallis vêm elaborando propostas concretas para o “decrescimento planejado”. Ao mesmo tempo, economistas ecológicos como o canadense Peter Victor e o britânico Tim Jackson desenvolveram modelos que apontam a inviabilidade do “crescimento infinito num planeta finito”, como define Saes. Isso aproximou os decrescimentistas dos economistas ecológicos, que hoje fazem seus congressos anuais no mesmo lugar – os de 2025 serão em junho na Noruega.
Apesar da urgência, o dilema de como chegar a uma mudança mundial não está resolvido – e existem tensões com os movimentos dos países do Sul Global.

CONFERÊNCIA DE 2024 DO MOVIMENTO DO DECRESCIMENTO E DA SOCIEDADE DE ECONOMISTAS ECOLÓGICOS, EM PONTEVEDRA, NA ESPANHA. FOTOS: YAGO IGLESIAS/DEGROWTH-ESEE
A América Latina entra no debate com resistência ao neoliberalismo
No início dos anos 2000, o retorno do debate sobre o decrescimento na Europa coincidiu com um período de efervescência na América Latina. Havia as articulações locais do Fórum Social Mundial e a ascensão de movimentos Indígenas e comunitários por toda parte, depois do levante dos zapatistas no estado mexicano de Chiapas, em 1994.
Na América do Sul, governos de esquerda foram eleitos na “onda rosa”. As novas Constituições do Equador, de 2008, e da Bolívia, de 2009, consagraram o conceito de Bem Viver, ou Sumak Kawsay na língua quéchua, baseado em ideias de harmonia com a Natureza e de uma organização social fundamentada na reciprocidade e na solidariedade. A Carta do Equador foi a primeira a reconhecer os Direitos da Natureza.
“Havia uma vontade de mudança que acumulava todo um ciclo de luta contra o neoliberalismo das décadas anteriores”, lembra a socióloga Miriam Lang, professora da Universidade Andina Simón Bolívar, no Equador. “Isso gerou debates sobre como era necessário integrar a América do Sul não apenas politicamente, mas financeira e economicamente, para fazer possível uma transição para outra economia, que deixasse de exportar matérias-primas e em que cada país compete com seu vizinho para exportar a mesma coisa para a China, seja soja, cobre ou petróleo”, analisa. “Existia sobre a mesa uma visão de que a região poderia se desvincular relativamente dos imperativos da economia global e ter uma economia regional diversificada, que pudesse satisfazer as necessidades da região.”

É PRECISO JUNTAR A JUSTIÇA AMBIENTAL E A SOCIAL NUMA TRANSFORMAÇÃO ECOSSOCIAL, EXPLICA MIRIAM LANG. FOTO: HUGO PAVÓN/UASB
Os governos de esquerda, porém, embarcaram na perspectiva do crescimento provocada pelo aumento da demanda por matérias-primas, que foi puxado pela China. Embora eles tenham implementado programas de transferência de renda, a estrutura econômica permaneceu a mesma e até se aprofundou. No Brasil, o minério de ferro, a soja e o petróleo se consolidaram como os principais produtos de exportação. Nos dois primeiros mandatos de Lula (2003-2006 e 2007-2010), a famosa ascensão da Classe C ou “a nova classe média” não foi resultado de uma mudança estrutural na distribuição de renda, mas alcançada a um alto custo para a Natureza, em especial em biomas como a Amazônia e o Cerrado.
Para Lang, o governo Lula foi em boa parte responsável por essa frustração: “O Brasil decidiu que lhe interessava muito mais fazer parte do Brics [o bloco dos países “emergentes” liderado pela China] e apostar em ser potência mundial. Mas os Brics jogam dentro das regras do neoliberalismo e da economia globalizada. Sem o Brasil, que tem um peso tão grande na região, não foi possível para os outros países avançar. Dentro dos países também se impuseram outras forças, muito menos visionárias em relação à mudança”.
Miriam Lang faz parte do grupo que formou, em 2020, o Pacto Ecossocial e Intercultural do Sul, uma rede de intelectuais e organizações socioambientais. Do grupo fazem parte, entre outros, a socióloga argentina Maristella Svampa, o cientista político brasileiro-espanhol Breno Bringel, o antropólogo colombiano Arturo Escobar, teórico do “pós-desenvolvimento”, e o economista equatoriano Alberto Acosta, que foi presidente da Assembleia Constituinte que redigiu a nova Carta do seu país. “Falamos de transformação ecossocial para juntar a justiça social e a justiça ambiental, que os governos progressistas puseram em lados opostos, só podia haver um ou outro. Ao contrário, se não houver um não haverá outro”, explica Lang.
Um elemento central das propostas do Pacto é a valorização das atividades de cuidado – com a Natureza, as crianças, os velhos, os doentes. “O que se propõe é mudar todo o eixo da organização econômica e política, para que o centro deixe de ser o crescimento e o dinheiro e sejam os cuidados com a vida”, diz Miriam Lang. Para ela, essa mudança “de valoração social e simbólica” implica a redistribuição dessas atividades, hoje exercidas sobretudo pelas mulheres, entre todos os gêneros. Mas não só: implica levar em conta as práticas coletivas de dividir as tarefas de cuidado nas famílias ampliadas e nas comunidades.

PROTESTO NO PERU CONTRA MINA DE COBRE, UM DOS METAIS DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, QUE GERA O ‘NEOEXTRATIVISMO VERDE’. FOTO: OBSERVATÓRIO DE CONFLITOS MINEIROS/AFP
Alberto Acosta escreveu com o cientista político alemão Ulrich Brand o livro Pós-extrativismo e Decrescimento (Editora Elefante), no qual essas propostas são descritas como “duas faces da mesma questão”. No livro, eles explicam que o extrativismo que se deseja superar é aquele baseado em atividades “que removem, na maioria das vezes de forma intensiva, grandes volumes de recursos naturais” e em “cultivos agroindustriais que se utilizam de muitos insumos, com o objetivo de exportar segundo a demanda dos países centrais, sem processamento – ou com processamento limitado – dos produtos”. Ao extrativismo tradicional se somou o “neoextrativismo verde”, a extração predatória de materiais da Natureza necessários para a transição energética, como o lítio usado em baterias elétricas ou a cana e o milho que viram biocombustíveis.
Os teóricos do decrescimento propõem que a maior parte da redução do uso de energia e de materiais arrancados da Natureza deve acontecer nos países do Norte, a fim de abrir “espaço ecológico” para as populações do Sul alcançarem um nível digno de vida. “Países de renda baixa, e na verdade a maioria dos países do Sul Global, continuam dentro de sua parte justa dos limites planetários. De fato, em muitos casos eles precisam aumentar o uso de energia e recursos para satisfazer as necessidades humanas”, escreve Jason Hickel no livro Less Is More. “Na medida em que o decrescimento nos países de renda alta libera as comunidades do Sul Global das garras do extrativismo, isso representa a descolonização no sentido mais verdadeiro do termo.”
Para Miriam Lang, porém, essa relação não é tão automática. Não basta dizer que países do Sul têm que crescer porque eles também precisam “repensar completamente” suas economias. Nessa reformulação, lembra Beatriz Saes, é fundamental atacar a desigualdade interna – e a América Latina é a região mais desigual do mundo, com o Brasil na liderança. “Em certo sentido, o decrescimento se aplica a uma parte do Brasil, se a gente for pensar em termos de uma mudança mais radical das formas de sociabilidade, do modo de vida que temos aqui”, diz Saes.
Miriam Lang enfatiza que, para favorecer a mudança de modelo no Sul Global, a ordem internacional também precisa mudar. Num artigo publicado em julho na revista Global Dialogue, ela afirma que, nas condições atuais, uma redução radical da demanda por matérias-primas poderia levar a uma “recessão catastrófica” em alguns países. “Há uma interdependência muito forte e muito assimétrica”, explica ela a SUMAÚMA. “O decrescimento sempre defende outra coisa que não é a recessão. Tem que ser uma redução planejada, democraticamente decidida, do metabolismo social com a Natureza. Para que isso seja possível na economia global ultraneoliberal de hoje, é preciso mudar as regras do jogo, mudar as regras de comércio, de finanças, as regras associadas à dívida, à disputa entre Estados e corporações, e é preciso equilibrar a tomada de decisões nos organismos internacionais”, completa.
A pesquisadora cita o caso da Indonésia, que tem grandes reservas de níquel, usado na fabricação de baterias. Em 2020, o país asiático proibiu a exportação do mineral bruto, como parte de uma política para industrializá-lo internamente. A União Europeia contestou a proibição na Organização Mundial do Comércio e venceu. A Indonésia recorreu, mas o organismo de apelação da OMC está parado desde 2019 por um boicote dos Estados Unidos. Em meio à disputa comercial, surgiram denúncias que ligam a exploração do níquel ao desmatamento, e o governo estadunidense apontou a existência de trabalho forçado em refinarias do metal operadas por empresas indonésias e chinesas. O timing das denúncias, ainda que verdadeiras, mostra como os direitos humanos e o meio ambiente podem ser instrumentalizados em disputas geopolíticas.
Na mudança do sistema internacional, o cancelamento da dívida externa de países do Sul Global aparece como um tema fundamental. Depois da descolonização formal da África e da Ásia, muitas nações pegaram dinheiro emprestado para financiar sua construção. Em 1979, um aumento brutal dos juros nos Estados Unidos tornou as dívidas em dólares impagáveis. Nos anos seguintes, os ajustes impostos por bancos multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, obrigaram esses países a cortar gastos públicos para pagar as parcelas desses débitos. Boa parte das dívidas externas atuais tem origem nesse período.
Numa entrevista em 2023, a socióloga argentina Maristella Svampa, do Pacto Ecossocial e Intercultural do Sul, ressalta que a dívida ecológica e a dívida externa estão ligadas. A dívida ecológica se forma porque os preços pagos pelas matérias-primas exportadas são menores do que seu custo de produção, quando se consideram os impactos ambientais e sociais. “Nossos países têm que continuar exportando commodities para ter acesso a dólares e continuar pagando os juros da dívida – é o caso do Equador, da Argentina. Isso os insere num círculo interminável”, alerta Svampa.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, tem levado a fóruns internacionais sua proposta de troca da dívida por ação climática – para que os países do Sul possam fazer investimentos que mudem o rumo de suas economias. O governo Lula propôs um imposto global sobre as fortunas dos super-ricos, cerca de 3 mil pessoas em todo o mundo que acumulam mais de 1 bilhão de dólares. E tem insistido também na reforma dos bancos multilaterais para aumentar os fluxos de dinheiro para os países financeiramente mais pobres sem que sua dívida aumente ainda mais. Miriam Lang diz que é preciso haver uma articulação maior entre os decrescimentistas do Norte e os movimentos ecossociais do Sul para ser possível desenvolver estratégias pelo desmantelamento da atual hierarquia internacional.

BENEFICIAMENTO DE NÍQUEL NA INDONÉSIA, QUE ENFRENTA DISPUTA COM A UNIÃO EUROPEIA POR TER PROIBIDO A EXPORTAÇÃO DO METAL BRUTO. FOTO: MUCHTAMIR ZAIDE/AFP
O Brasil e o decrescimento seletivo
Apesar de enraizado no imaginário mundial, o Produto Interno Bruto como medida de sucesso de uma economia é relativamente recente. O indicador foi criado durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, nos anos 1930, pelo economista Simon Kuznets. Foi uma encomenda do governo do democrata Franklin Delano Roosevelt, que com seu New Deal interveio contra a desregulação dos mercados e a concentração de riqueza. A equipe de Roosevelt queria um indicador que medisse facilmente onde a produção estava se recuperando e onde ela ainda estava deprimida.
O indicador ganhou importância durante a Segunda Guerra Mundial, e acabou consagrado como a principal medida de progresso de um país em 1944, quando a Conferência de Bretton Woods, na Inglaterra, definiu as instituições econômicas do pós-guerra. Para Jason Hickel, isso não aconteceu por acaso: o PIB não mede os custos ambientais e sociais do crescimento porque o capitalismo não mede esses custos, diz ele. É, portanto, um indicador conveniente.
Em um artigo no livro Decrescimento, Vocabulário para um Novo Mundo, o colombiano Arturo Escobar situa também nos anos 1940 o conceito de “desenvolvimento econômico” em sua conotação atual. “[Ele] passou a ser associado ao processo de abrir caminho à reprodução, em ‘áreas subdesenvolvidas’, das condições que caracterizam as nações industrializadas”, escreve.
Na Comissão Econômica para a América Latina, a Cepal, o “desenvolvimentismo” se tornou o paradigma. Ele propunha a intervenção do Estado para promover a industrialização e acabar com a assimetria que condenava os países da região a serem exportadores de matérias-primas, mais baratas que os produtos industrializados que importavam. A vertente marxista da teoria da dependência desafiou essa análise. Ela olhou para a conexão entre os capitalistas dos países centrais e dos países periféricos e concluiu que estes últimos não poderiam contar com as chamadas “burguesias nacionais” para tirá-los desse esquema. Portanto, o desenvolvimento seria inviável sob o capitalismo. Porém, como observa Arturo Escobar, a teoria da dependência “manteve intacto o pressuposto do crescimento”.
A partir dos anos 1980, na cronologia feita pelo antropólogo colombiano, começa a haver uma mudança. Se o ideal anterior era a equalização global por meio da uniformização de modelos, no “pós-desenvolvimento” o que vale é a diferença e as experiências locais. No Brasil, essa forma de pensar se reflete nos escritos de intelectuais Indígenas, como Ailton Krenak, e Quilombolas, como Antônio Bispo dos Santos, o Nêgo Bispo. No seu livro, Alberto Acosta e Ulrich Brand afirmam que o pós-extrativismo “rompe com o conceito de ‘desenvolvimento’ pensado de forma teleológica, ou seja, dirigido a um objetivo supostamente claro, que não dá espaço a alternativas”.
A despeito disso, os objetivos de crescer e se desenvolver permanecem profundamente enraizados. Para governos de esquerda, promover o crescimento do PIB significa também a possibilidade de ampliar ou manter o espaço para investimentos sociais sem entrar em choque com os interesses das elites extrativistas locais. Quando o crescimento diminui, aumentam os conflitos sobre a distribuição da riqueza e a disputa pelo orçamento público – do qual os capitalistas se beneficiam com o pagamento de juros, os subsídios e as isenções tributárias. “Ser abertamente contra o crescimento se torna um suicídio eleitoral num ambiente da mídia corporativa que enquadra até um keynesianismo brando como economicamente irresponsável”, escreve Kallis num artigo de 2017, se referindo ao economista John Maynard Keynes (1883-1946), que defendia a regulação dos mercados pelo Estado.
Uma pesquisa qualitativa publicada em 2019 na revista Ecological Economics ouviu ativistas de organizações por justiça ambiental de países da América Latina e da África sobre o decrescimento. Em geral, o termo foi considerado sem apelo, eurocêntrico e sem conexão com as reivindicações da população dessas regiões. “Para muitas pessoas no Sul (…), ‘decrescimento’ não fará sentido por causa de suas próprias histórias e experiências, que frequentemente passaram por situações de pobreza e escassez das necessidades mais básicas. Algum ‘crescimento’, para alcançar mais segurança em termos de sobrevivência, é visto como lógico”, apontam as conclusões da pesquisa. “Portanto, focar a luta no decrescimento não apenas é percebido como fora do que é importante, mas também de algum modo um debate ‘frívolo’”, afirma o estudo.
A palavra decrescimento é considerada politicamente tóxica, e os integrantes da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica resistem a usá-la como proposta para o Brasil. “Vamos fazer o que precisa ser feito em termos de políticas, tentar buscar um novo modelo para a nossa economia, e aí ver o que acontece com o PIB. O PIB é o menos importante em termos dos nossos objetivos”, diz Beatriz Saes.

O BRASIL, UM DOS PAÍSES CAMPEÕES EM DESIGUALDADE, PRECISA BUSCAR UM NOVO MODELO ECONÔMICO, AFIRMA BEATRIZ SAES. FOTO: MARCO RACCICHINI
Seu colega Andrei Domingues Cechin, professor da Universidade de Brasília, é ainda mais cauteloso ao afirmar que é preciso buscar uma “noção positiva”, que vá além da negação do sistema econômico atual. “Pensando em longo prazo, para a economia global não faz sentido achar que você vai continuar sempre crescendo a produção e o consumo e reduzindo impactos ambientais. Isso muito provavelmente não é possível”, diz Cechin a SUMAÚMA. “Mas, para um período histórico específico, para um país específico como o Brasil, talvez seja não só possível, mas desejável”, argumenta ele.
Andrei Cechin cita como exemplo o projeto de um “Green New Deal para o Brasil”, que foi apresentado em 2022 por uma equipe liderada por Carlos Eduardo Young, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O projeto do “novo acordo verde” prevê transformações que tornarão os transportes e a agricultura menos danosos ao meio ambiente, combinadas com investimentos maciços em habitação, saneamento e restauração florestal. Algumas propostas específicas, como a garantia de “empregos verdes” para as pessoas desempregadas, coincidem com as dos decrescimentistas.
O mais interessante, porém, é como esse programa seria financiado pelo governo. Entre as fontes de arrecadação apontadas, estão o aumento dos impostos sobre combustíveis fósseis, grandes propriedades rurais e heranças. Outras são o fim dos bilionários subsídios aos agrotóxicos, que hoje praticamente não pagam impostos no Brasil; a tributação dos dividendos, como é chamada a parcela do lucro das empresas que é distribuída aos acionistas, atualmente também isentos; e a criação de um imposto sobre grandes fortunas.
Diante das condições políticas atuais, marcadas pela dominância da direita neoliberal e do avanço da extrema direita e seu objetivo de minar tudo o que é público e coletivo, aprovar essas propostas representaria uma virada tão grande quanto as medidas de transição sugeridas pelos decrescimentistas para os países ricos. Não deixaria de ser, no final, um “decrescimento seletivo”, como diz o próprio Cechin, no qual atividades poluidoras seriam coibidas e a riqueza seria mais bem distribuída.
Um argumento frequente é que o decrescimento tem mais apelo nos países europeus e no Japão, onde o aumento do PIB já tem sido pequeno. Nos Estados Unidos, onde o crescimento é um norte da política, a proposta encontra resistência mesmo entre pessoas alinhadas à esquerda. Uma delas é o economista Robert Pollin, autor, com o linguista e intelectual Noam Chomsky, do livro Crise Climática e o Green New Deal [Novo Acordo Verde] Global: a Economia Política para Salvar o Planeta (editora roça nova).
Num artigo em 2018 na New Left Review, Pollin diz que compartilha dos valores e preocupações dos decrescimentistas. No entanto, argumenta, eles erram o alvo porque o problema central não está no crescimento, e sim no neoliberalismo. A ideia de Pollin é que hoje os capitalistas ganham mais especulando nos mercados financeiros, e com isso reduziram os investimentos na chamada “economia real”. A concentração de renda e riqueza aumentou ao mesmo tempo que o crescimento econômico diminuía nos países ricos.
Robert Pollin defende a ideia de que gastos maciços em eficiência energética e energias renováveis poderiam deter a emergência climática. Mas reconhece que, mesmo nesse cenário, ao final de 20 anos as emissões de gases de efeito estufa por habitante nos Estados Unidos seriam três vezes maiores do que na média do resto do mundo. Por uma questão de justiça, o certo seria exigir a equalização das emissões, com os países mais ricos e as pessoas mais ricas em qualquer país baixando o que emitem para a média mundial. No entanto, pondera o economista, “não há nenhuma chance de que isso seja implementado” e “não podemos nos dar ao luxo de perder tempo (…) lutando por objetivos inatingíveis”.

POLUIÇÃO DO AR EM SÃO PAULO, MAIOR CIDADE DE UM PAÍS QUE SUBSIDIA OS MAIS RICOS E AS ATIVIDADES DANOSAS AO MEIO AMBIENTE. FOTO: FABIO VIEIRA/FOTORUA/NUR PHOTO/AFP
Um mundo de Pepes Mujica
Os pensadores do decrescimento, do pós-extrativismo e do ecossocialismo defendem um horizonte pós-capitalista, mas ainda não há total clareza sobre o que viria depois. Em parte, a dificuldade decorre da experiência dos Estados comunistas centralizados e autoritários do século 20, à qual eles contrapõem a ideia de uma “democracia expandida”. Jason Hickel diz que o decrescimento não é “o fiasco de comando e controle da União Soviética, nem uma volta às cavernas de autopunição e empobrecimento voluntário”.
Ele costuma citar pesquisas em que a maioria dos entrevistados apoia as políticas propostas pelo movimento. “Ainda há perguntas difíceis para as quais não temos respostas. Ninguém pode nos dar uma receita simples para uma economia pós-capitalista”, escreve. “Em última instância, isso tem que ser um projeto coletivo.”
Giorgos Kallis reconhece que o desafio de reduzir as desigualdades globalmente é enorme. Se para os países ricos bastaria repartir melhor o que já existe, uma equalização mundial exigiria aumentar o consumo de energia em termos absolutos, explica. Ele escreveu que aposta “num milagre social”. “Padrões de vida podem melhorar sem crescimento por meio de uma mudança de desejos e expectativas, ou trocando a valorização de bens materiais pela valorização das relações”, aposta. Seria algo como um mundo de Pepes Mujica, o ex-presidente uruguaio que doou grande parte do seu salário e entrou e saiu do poder morando no mesmo sítio, onde cultiva flores.
Para os integrantes do Pacto Ecossocial e Intercultural do Sul, a falta de um projeto fechado é proposital. “Temos que nos acostumar ao fato de que não há uma receita única de transformação social, como havia nos séculos 19 e 20”, diz Miriam Lang. Ela cita filosofias de mudança semelhantes ao Bem Viver que existem na África e na Índia: “Quando colocamos lentes sobre as alternativas que já estão em andamento, há muitas. Só que o discurso dominante nos acostumou a não olhar esses processos alternativos porque insiste em categorizá-los como irrelevantes, atrasados, primitivos ou simplesmente locais. Ou seja, os desqualifica sistematicamente”, afirma Lang.
Ela acredita que o socialismo “perdeu vigência como utopia” porque não pode se desfazer de sua história. Além disso, acrescenta, o Estado forte que aparece nas propostas dos decrescimentistas vem de uma nostalgia dos Estados de bem-estar, que “só puderam existir como uma face mais humana do capitalismo tendo como base a injustiça global”. No Sul, afirma ela, os Estados também terão que assumir responsabilidades na regulação, no planejamento e na construção de infraestrutura. “Mas esse potencial das populações de se organizarem e assumirem coletivamente a definição do seu próprio destino e também do seu autocuidado, incluindo a autoprodução parcial de infraestrutura, é muito grande e não deveria ser descartado”, ressalta.
Alberto Acosta, o economista equatoriano, escreve que tanto decrescimento quanto pós-extrativismo são termos “de escassa efetividade simbólica” e que é preciso encontrar expressões que possam “dialogar com amplos segmentos da população mundial e angariar seu apoio”. De toda forma, seriam propostas múltiplas, porque baseadas em experiências concretas em diferentes países e regiões. O Bem Viver é apenas uma delas. “Com as propostas do Bem Viver não se pretende ‘regressar’ ao passado ou idealizar modos de vida Indígenas ou comunitários. Busca-se reconhecer e respeitar os múltiplos conhecimentos, experiências e práticas de vida existentes na região”, explica ele.
Uma frase famosa do pensador alemão Walter Benjamin (1892-1940) costuma frequentar esses debates. Benjamin pôs em questão a ideia de que o progresso técnico levaria os humanos sempre a graus superiores de evolução. No último texto que escreveu antes de sua morte, quando tentava chegar à Espanha para fugir do avanço nazista, ele afirmou: “Marx disse que as revoluções são a locomotiva da história mundial. Talvez as coisas se apresentem de outra maneira. É possível que as revoluções sejam, para a humanidade que viaja nesse trem, o ato de puxar o freio de emergência”.
Diante do colapso do clima e da Natureza e do avanço do negacionismo, não só na extrema direita, mas também entre aqueles que nada fazem para detê-la, acionar o freio pode ser tanto uma opção consciente como o desfecho inevitável de uma catástrofe planetária. Ou, como propõe o título de um livro do economista ecológico canadense Peter Victor, o freio pode ser puxado de propósito ou por causa de um desastre.

PARA PEPE MUJICA, QUE ENTROU E SAIU DO PODER MORANDO NUM SÍTIO EM QUE CULTIVA FLORES, CONSUMIR NÃO É SER FELIZ. FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM
Para saber mais
Decrescimentistas – A palavra “decrescimento” surgiu nos anos 1970, mas o movimento decrescimentista ganhou fôlego na Europa neste século, reunindo pessoas de diferentes correntes de pensamento que defendem uma organização econômica compatível com os limites ecológicos da Terra. O movimento questiona a lógica capitalista do crescimento contínuo e defende a redução do consumo de recursos da Natureza e de energia, a distribuição da riqueza monetária, investimentos prioritários nos bens coletivos e nos serviços públicos e menos horas de trabalho.
Livros:
- Decrescimento, Vocabulário para um Novo Mundo – vários autores (Tomo editorial)
- Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno – Serge Latouche (editora Martins Fontes)
- Less Is More: How Degrowth Will Save the World (Menos é mais, como o decrescimento vai salvar o mundo) – Jason Hickel, em inglês (editora Penguin)
- Site: Rede internacional do decrescimento (em inglês)
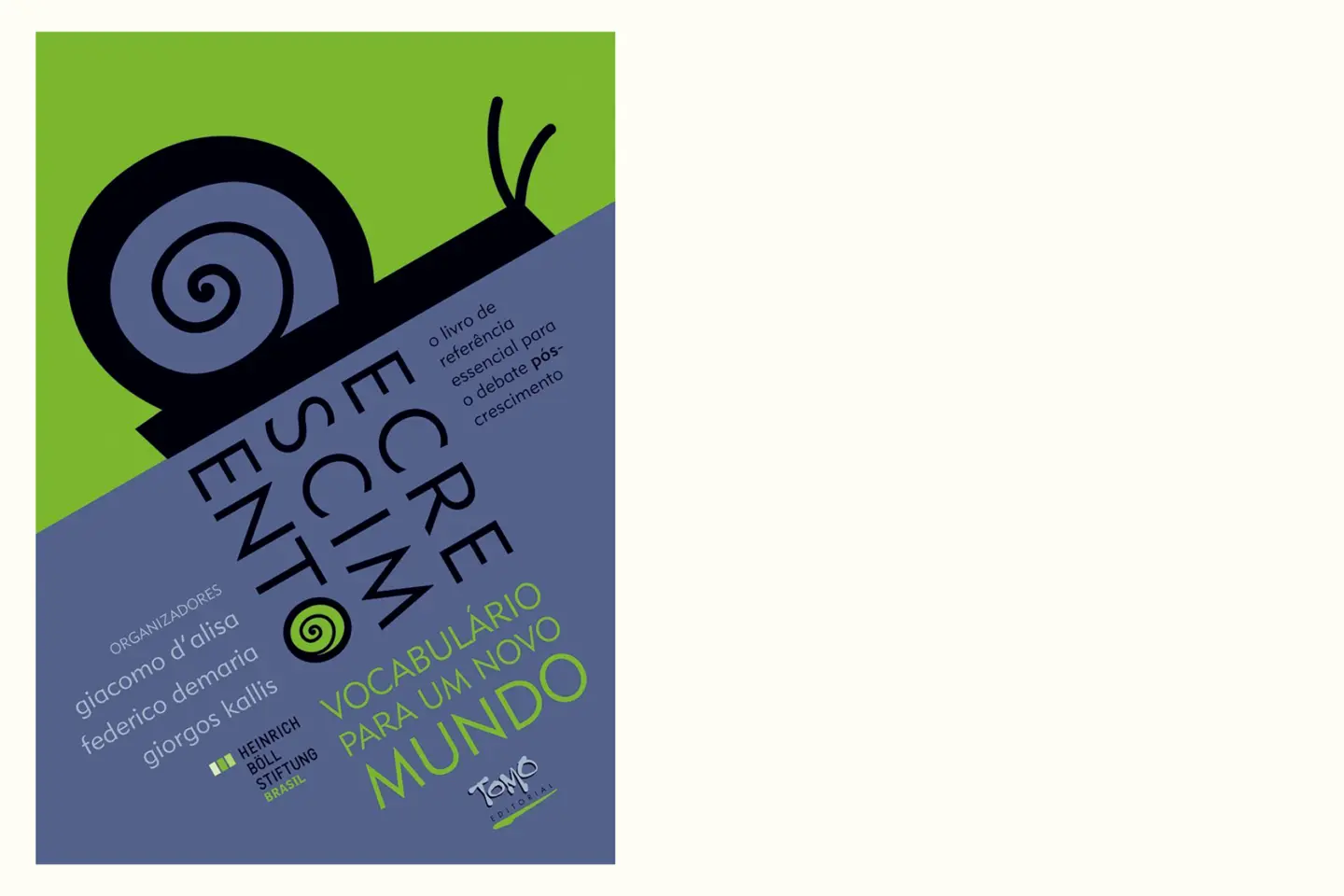
Livro reúne textos de pensadores do decrescimento. Foto: Tomo Editorial
Pós-extrativistas – São intelectuais e movimentos sociais da América Latina que questionam a ideia de desenvolvimento como uma imitação da trajetória dos países financeiramente ricos. Defendem a superação do modelo baseado na extração e exportação de recursos da Natureza. Falam numa transição ecossocial, que compatibilize a justiça social com a ambiental, com foco nos “cuidados” – do meio ambiente, dos doentes, dos velhos e das crianças. Também questionam a hierarquia internacional que põe os países do chamado Sul Global em posição subalterna.
Livros:
- Pós-extrativismo e Decrescimento: Saídas do Labirinto Capitalista – Alberto Acosta e Ulrich Brand (editora Elefante)
- O Bem Viver, uma Oportunidade para Imaginar Outros Mundos – Alberto Acosta (editora Elefante)
- Más Allá del Colonialismo Verde: Justicia Global y Geopolítica de las Transiciones Ecosociales (Além do colonialismo verde, justiça global e geopolítica das transições ecossociais) – vários autores, em espanhol (editora Clacso)
- Site: Pacto Ecossocial e Intercultural do Sul (em espanhol)
Ecossocialistas – São marxistas críticos aos modelos de desenvolvimento tanto do capitalismo quanto do chamado “socialismo real”, como o que existiu na antiga União Soviética. O imperativo de deter a catástrofe climática e ecológica está no centro de suas propostas, ao lado da justiça social. Muitos dos ecossocialistas também defendem o decrescimento planejado e uma equalização global do consumo de recursos e de energia como uma estratégia para salvar a vida no planeta e chegar a uma sociedade socialista diferente das que existiram.
Livros:
- O que É Ecossocialismo – Michael Löwy (Coleção Questões da Nossa Época, editora Cortez)
- Se Quiser Mudar o Mundo: um Guia Político para Quem Se Importa – Sabrina Fernandes (editora Planeta)
- O Capital no Antropoceno – Kohei Saito (editora Boitempo)
- Enfrentando o Antropoceno: Capitalismo Fóssil e a Crise do Sistema Terrestre – Ian Angus (editora Boitempo)
- Site: Climate and Capitalism (em inglês)
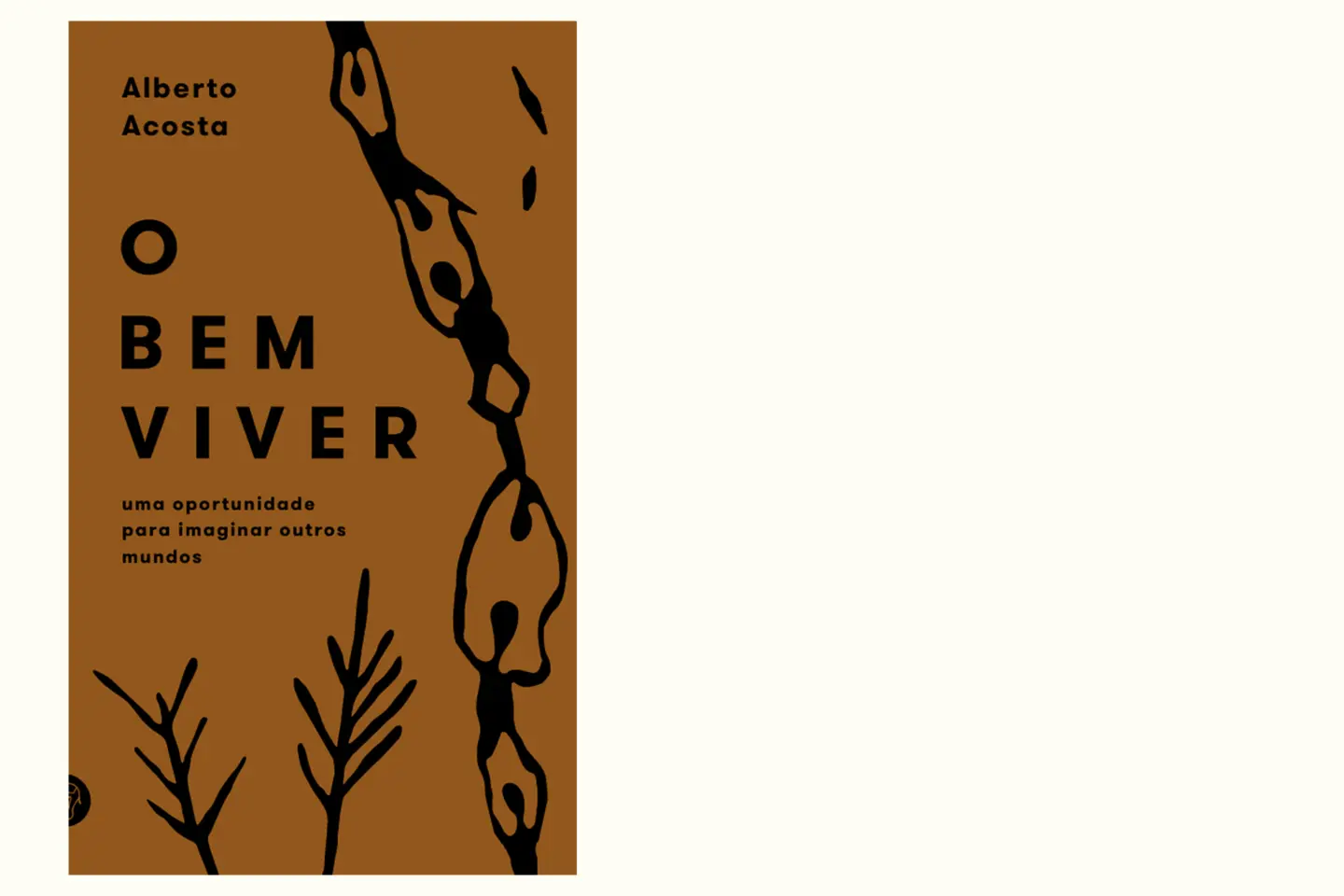
Livro de Alberto Acosta, pensador do pós-extrativismo. Foto: Editora Elefante
Edição: Eliane Brum
Edição de fotografia: Lela Beltrão e Soll
Checagem: Gustavo Queiroz e Plínio Lopes
Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza
Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza
Tradução para o inglês: Sarah J. Johnson
Montagem de página e acabamento: Natália Chagas
Coordenação de fluxo editorial: Viviane Zandonadi
Editora-chefa: Talita Bedinelli
Diretora de Redação: Eliane Brum


