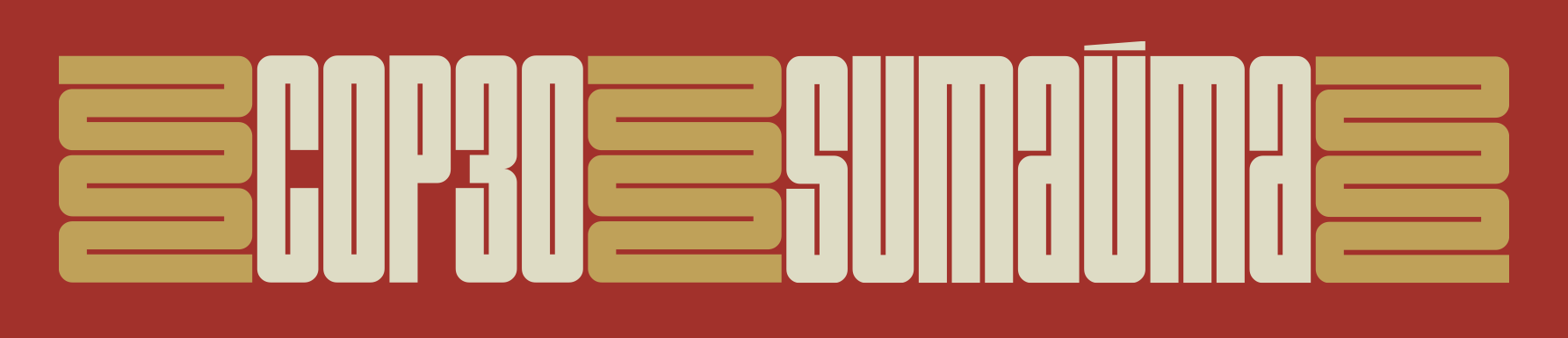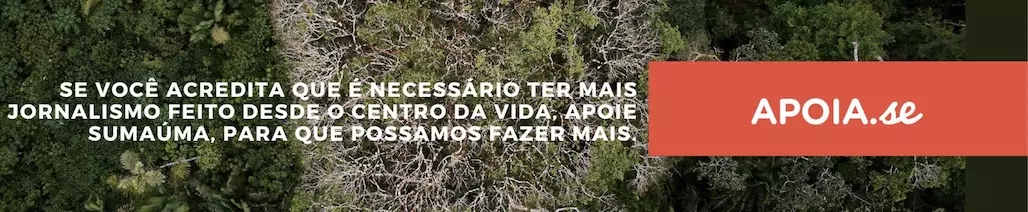Acompanhe a cobertura completa da COP30 assinando gratuitamente a newsletter especial de SUMAÚMA
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP de Belém, sofre de um problema de origem: ela representa um mundo que, se nunca foi coerente ou bonito, agora está parando de funcionar. É um mundo em que se aposta na efetividade do chamado multilateralismo, pelo qual seria possível alcançar consensos entre os quase 200 países que fazem parte da ONU sobre soluções para problemas comuns, entre eles a ameaça que as mudanças climáticas representam para a vida no planeta. Se esse mundo vem permitindo desde 2023 que o massacre de civis palestinos por Israel aconteça, televisionado em tempo real, dificilmente ele se moverá de forma consensual pelos que perderam seu teto nas enchentes do Rio Grande do Sul ou seus meios de sobrevivência nas secas da Amazônia.
Não é apenas por causa de Donald Trump que esse mundo pode acabar. O presidente americano já rompeu com o Acordo de Paris contra a mudança do clima uma vez, em 2017, no início do seu primeiro mandato. Na época, um ambiente internacional mais positivo permitiu contornar o impacto desse rompimento. O que Trump tenta fazer agora, depois de assumir a Casa Branca pela segunda vez, é martelar o último prego no caixão do multilateralismo, ao ser explícito sobre a intenção dos Estados Unidos de agirem sozinhos. Com um programa mais agressivo do que no seu governo anterior, Trump acentuou as disputas que já existiam tanto com aliados históricos quanto com rivais dos Estados Unidos e catalisou tendências negacionistas de setores econômicos e países que recuam dos seus compromissos de contribuir para deter o aquecimento do planeta.

AO ANUNCIAR QUE OS ESTADOS UNIDOS VÃO AGIR SOZINHOS, TRUMP AMEAÇA MARTELAR O ÚLTIMO PREGO NO CAIXÃO DO MULTILATERALISMO. FOTO: SAUL LOEB/AFP
Não por acaso, isso ocorre na hora da verdade, quando a implementação dos acordos climáticos exige que quem mais emite e emitiu gases de efeito estufa ceda mais e contribua mais. É o que os movimentos sociais chamam mais amplamente de “justiça climática” e as negociações do clima de “transição justa” – tema de um grupo de trabalho criado sob o Acordo de Paris que não conseguiu aprovar nenhum documento na COP de 2024, em Baku, no Azerbaijão. A resistência a ceder – e a superar o que a ministra Marina Silva chamou, na COP29, de “modelos insustentáveis de desenvolvimento” – se reflete no cabo de guerra geopolítico e também, internamente, no Brasil, o país-anfitrião da conferência que marca os dez anos do Acordo de Paris.
É provável que o presidente Lula não tenha antecipado essa situação quando, ainda antes da posse, lançou a candidatura do Brasil para sediar a COP30 na Floresta Amazônica, bioma central para a sobrevivência da vida. Em Brasília, há ansiedade com as repercussões na política interna de controlar esse “rabo de foguete” e sair dele sem ser responsabilizado por um eventual fracasso da conferência. É nesse contexto que devem ser lidas as posições cautelosas que têm sido externadas pelo comando brasileiro da COP30, tanto na carta que foi divulgada no dia 10 de março quanto em entrevistas recém-publicadas por SUMAÚMA.
O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, e Ana Toni, diretora-executiva da conferência, fazem o diagnóstico correto sobre a urgência de impedir que a temperatura do planeta continue aumentando além do 1,5 grau Celsius, em relação aos níveis anteriores à Revolução Industrial, o principal objetivo do Acordo de Paris. Ambos exortam sociedades e governos a agirem. No entanto, até agora eles hesitam em elencar propostas que poderiam requerer um consenso dos quase 200 países que assinaram o acordo e a Convenção do Clima. Sem que se ponha na mesa o que é essencial para manter o Acordo de Paris vivo, é mais difícil formar uma coalizão de países que seja forte o suficiente para superar o “efeito Trump”.
Corrêa do Lago e Toni insistem em que o momento é de implementação do que já foi negociado. Os dois enfatizam a chamada “agenda de ação”, que são compromissos anunciados durante as COPs por grupos de países, empresas e entidades, mas não por todas as delegações oficiais. Essa agenda tem valor político, contudo não se torna lei internacional. A expectativa mais presente é a de compromissos para o financiamento da restauração de florestas e o pagamento dos “serviços ambientais” prestados por elas – na regulação do regime de chuvas, por exemplo. Apesar disso, o presidente e a diretora-executiva da COP30 negam que não tenham ambição para as negociações entre todos os países e apelam a eles para que não deixem o multilateralismo morrer.
Os dois embasam sua posição em um argumento técnico, o de que as principais negociações resultantes do Acordo de Paris já foram concluídas. Na COP de Dubai, em 2023, todos os países aprovaram o Balanço Global, um acordo que prometeu a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e o fim do desmatamento até 2030. Na COP de Baku, em 2024, eles aprovaram a nova meta de financiamento climático e fecharam as regras para o funcionamento do mercado de carbono supervisionado pela Convenção do Clima.
O problema é que os documentos de Dubai e Baku deixaram lacunas. Nos combustíveis fósseis, não ficou especificado como sua eliminação vai ocorrer de forma “justa, ordenada e equitativa” – isto é, a que países cabe capitanear esse movimento e o ritmo que ele vai ter. Nos Estados Unidos, o maior produtor de petróleo atual, a ordem de Trump é abrir mais poços. Nem a Noruega, apesar da transição energética interna, tem um plano para reduzir a produção e a exportação petrolíferas. No financiamento, o compromisso de prover 300 bilhões de dólares (1,7 trilhão de reais) anualmente, até 2035, aos países com menos recursos para fazer a transição ecológica ficou muito aquém do 1,3 trilhão de dólares (7,5 trilhão de reais) por ano tido como o mínimo necessário.
Países como a Índia, altamente dependente do carvão, alegam que não conseguem fazer uma transição energética mais rápida sem sacrificar o fornecimento de energia a sua população. Na África, quatro em cada cinco pessoas ainda usam lenha e carvão para cozinhar, segundo a Agência Internacional de Energia. Uma equalização mundial do “orçamento de carbono” – quanto cada país poderia emitir por pessoa de modo que fosse possível reduzir as emissões totais para deter a mudança do clima – exigiria virar de cabeça para baixo a arquitetura do capitalismo global.
A questão do financiamento – que deve ser complementado pela colaboração tecnológica – ilustra bem os limites atuais do multilateralismo. Os acordos climáticos são baseados no princípio da “responsabilidade comum, porém diferenciada”, significando que a maior responsabilidade recai sobre os países materialmente ricos e poluidores históricos, que são basicamente os Estados Unidos, o Japão e as nações europeias. Nas conferências do clima, esse princípio continua sendo esgrimido pelos países classificados como “em desenvolvimento”, entre eles a China, que é o maior emissor atual de gases de efeito estufa em termos absolutos (mas não por habitante). Em Baku, a China pela primeira vez botou números na mesa, ainda que não auditados de forma independente, afirmando ter entregado 24,5 bilhões de dólares (142 bilhões de reais) em financiamento climático desde 2016. Ao mesmo tempo, os chineses não aceitam que sua contribuição financeira seja tratada como uma obrigação dentro do Acordo de Paris.

APESAR DE LÍDER EM TECNOLOGIAS RENOVÁVEIS, A CHINA, ASSIM COMO A ÍNDIA, AINDA É DEPENDENTE DE CARVÃO PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA. FOTO: AFP
Alegando a saída dos Estados Unidos, a invasão da Rússia na Ucrânia e o avanço da extrema direita no continente, a União Europeia não quer se comprometer com mais financiamento. Mesmo antes de Trump, as contribuições dos Estados Unidos para o financiamento climático sempre ficaram aquém de sua condição de maior economia do mundo e de sua contribuição histórica para o aquecimento do planeta. Uma estimativa feita pelo World Resources Institute, baseada nessas duas variáveis, indicou que o governo estadunidense deveria contribuir com 42% do financiamento, com a China e a Alemanha num distante segundo lugar, com 6% cada. Uma análise do Carbon Brief, um site especializado em clima e energia, mostrou que, após um aumento anunciado pelo ex-presidente Joe Biden, para 11 bilhões de dólares por ano, a contribuição do país ficou em 8% do total. Boa parte desse dinheiro já foi cancelada por Trump, e o restante está na mira dele.
Para contornar essas dificuldades, o governo brasileiro está levando a discussão climática para o Brics, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e que recentemente incorporou mais seis países: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Neste ano, o Brasil ocupa a presidência do Brics, que terá sua cúpula anual em julho, no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2025, na Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD), os países do grupo atuaram pela primeira vez como um bloco negociador e contribuíram para destravar um acordo sobre financiamento que havia ficado bloqueado na conferência sobre a biodiversidade de Cali, na Colômbia, no ano passado (os Estados Unidos não são parte desse tratado).
Vários países do Brics têm condições de contribuir para o financiamento da ação climática, como, além da China, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Indonésia e Brasil têm peso no debate sobre florestas. Alguns, incluindo a China e o Brasil, desenvolvem tecnologias para a transição energética. Porém três deles – Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes – são membros da Opep, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Rússia, Brasil e China, além disso, estão entre os dez maiores produtores petrolíferos.
No acordo recém-aprovado na Organização Marítima Internacional, um organismo da ONU, para a descarbonização da navegação, o Brics se dividiu: Brasil, Índia, África do Sul e China votaram a favor, enquanto Arábia Saudita, Rússia, Emirados e Irã foram contra. Ainda assim, o acordo teve o apoio de uma maioria, apesar do boicote dos Estados Unidos. Agora, a ministra Marina Silva vem insistindo em que a COP de Belém deve aprovar um “mapa do caminho” para a eliminação dos combustíveis fósseis, mas ainda é preciso que o comando brasileiro da conferência formalize essa proposta.
Para completar o quadro, apenas 19 países apresentaram até agora suas metas de cortes de emissões de gases de efeito estufa até 2035 – todos deveriam ter feito isso até 10 de fevereiro. União Europeia, China e Índia estão entre os que estão atrasados na entrega de novas NDCs, sigla em inglês para a Contribuição Nacionalmente Determinada, como essas metas são chamadas no Acordo de Paris. São as NDCs que demonstram o compromisso de cada país com a descarbonização, orientando as políticas internas e os investimentos.
Os entraves todos não diminuem a expectativa da sociedade civil brasileira e internacional sobre a primeira COP na Amazônia e a primeira em um país democrático em quatro anos. O que conta para essa expectativa, além disso, é o fato de que os efeitos da mudança do clima deixaram de ser uma previsão dos cientistas para chegar ao cotidiano de milhões de pessoas. As emissões de gases de efeito estufa, que deveriam diminuir ano a ano, continuam aumentando. Em 2023, a concentração de gás carbônico na atmosfera foi a maior em 800 mil anos, segundo a Organização Meteorológica Mundial, um organismo da ONU.
Milhares de brasileiros planejam se deslocar até Belém. Muitas pessoas querem ser ouvidas sobre reivindicações que poderão não estar abarcadas na agenda de ação que o comando brasileiro da COP30 vai apresentar ou na pauta das negociações. Em Dubai, lugar de turismo de luxo, Lula disse que as reuniões em Belém poderiam acontecer debaixo de árvores e dentro de canoas, mas o desafio de hospedar tanta gente, começando pelas delegações dos países, está se mostrando mais difícil de resolver. Os preços proibitivos que estão sendo cobrados ameaçam principalmente a participação das nações com menos recursos, que são em geral as que menos contribuíram para a mudança do clima e estão entre as mais afetadas por ela.
Em entrevista a SUMAÚMA, o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia da Silva, disse que está aconselhando os países a mandar delegações menores. A intenção, segundo ele, é que a conferência volte aos níveis de presença anteriores a Dubai, quando o número de pessoas credenciadas era em média 30 mil. Em Dubai, que teve 85 mil participantes credenciados, Tasneem Essop, diretora-executiva da Climate Action Network, a maior rede mundial de organizações socioambientais, disse que seria ótimo que a COP do Brasil “voltasse ao básico”. Mas, para ela, isso significava sobretudo o fim da profusão de corporações poluentes tentando fazer greenwashing de suas atividades – algo que dificilmente acontecerá, já que são justamente elas as que têm mais dinheiro para pagar os preços proibitivos de Belém.
Esse debate diz respeito também à delegação oficial brasileira, que em geral inclui os negociadores, autoridades dos vários níveis de governo, cientistas e representantes de organizações socioambientais e de empresas. Na COP de Dubai, foram cerca de 3 mil brasileiros oficialmente credenciados. Na de Baku, cerca de 1,4 mil, incluindo 35 representantes do agronegócio e de organizações do setor. A composição da delegação em Belém já está em negociação, mas a maior preocupação no governo é com as ruas, com os movimentos sociais que estarão presentes e farão questão de se sentir parte da conferência. O fato de um tema caro a esses movimentos, como o racismo ambiental, não ter sido mencionado na primeira carta da presidência da COP30 causou apreensão.
Se o Brasil poderá ter certa influência no tamanho das delegações oficiais – embora o credenciamento não seja feito aqui, mas pela Convenção do Clima –, não será capaz de erguer um “muro de Belém” para evitar que mais gente vá à cidade. Nas ruas estarão os grupos que, se ainda carecem de poder para dobrar os governos, trarão a ideia de que têm um novo mundo a oferecer para o lugar daquele que não funciona mais. No governo Lula, a ideia é dialogar com esses movimentos desde já, com reuniões que o comando da COP já está fazendo e seminários regionais e temáticos. O mundo oficial deseja contar com a colaboração do movimento socioambiental para vencer os entraves políticos ao sucesso da conferência. Mas essa colaboração – ou ao menos o entendimento de que o comando da COP30 fez tudo o que era possível para evitar um fracasso – não virá sem contrapartidas. Entre elas, a de que o governo possa encampar propostas negociadoras ambiciosas e que respondam às necessidades dos que estão na linha de frente do colapso do clima e da Natureza.

COMO FIZERAM AS MULHERES XIKRIN NO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE, MILHARES DEFENDERÃO EM BELÉM UMA SOCIEDADE NOVA PARA O LUGAR DAQUELA QUE MORRE. FOTO: LELA BELTRÃO/SUMAÚMA
Texto: Claudia Antunes
Edição: Talita Bedinelli
Edição de fotografia: Lela Beltrão
Checagem: Caroline Farah e Plínio Lopes
Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza
Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza
Tradução para o inglês: Sarah J. Johnson
Montagem de página e acabamento: Natália Chagas
Coordenação de fluxo editorial: Viviane Zandonadi
Editora-chefa: Talita Bedinelli
Diretora de Redação: Eliane Brum