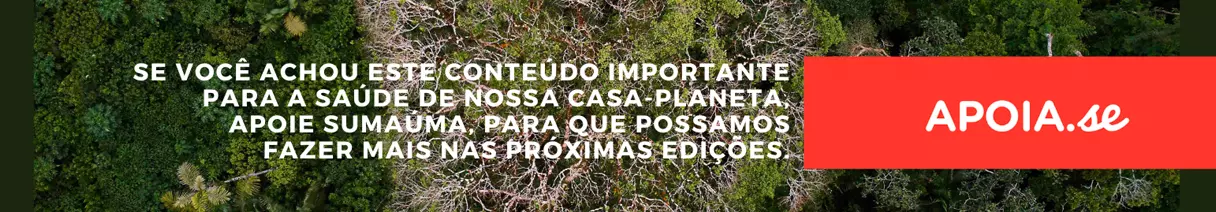Especial para SUMAÚMA
Quando os três países responsáveis por mais da metade das florestas tropicais do planeta assinaram um pacto de conservação no mês passado, o mundo reagiu com entusiasmo. Brasil, República Democrática do Congo e Indonésia têm sido notórios campeões de desmatamento nas últimas décadas, mas a união foi vista como um potencial ponto de virada.
O timing ajudou a explicar a interpretação otimista. A notícia foi divulgada logo após a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva e nos primeiros dias da abertura da conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito. O cenário parecia estar finalmente se abrindo positivamente para as florestas tropicais do mundo.
Mas, depois de voltar da COP27 e mergulhar mais detalhadamente nas origens do acordo, observo que, embora tenha potencial para se tornar uma força para o bem, isso ainda não é um fato dado. A aliança firmada em novembro não é uma iniciativa do governo Lula. Ela estava em discussão há anos, é verdade, mas foi aprovada pelo governo Bolsonaro. O presidente eleito disse em seu discurso, em Sharm el-Sheikh, que gosta da ideia, mas não conhece os detalhes do que foi acertado. A questão agora é como o pacto florestal poderá evoluir, ou não.
Nos corredores da COP27 o anúncio da aliança soou, a bem da verdade, um tanto estranho. O jornal britânico The Guardian deu em primeira mão a notícia da iniciativa e afirmou que estão em curso conversas entre as três potências megadiversas. A publicação disse ainda que a aliança estava sendo vista como uma espécie de “Opep das Florestas”, uma referência à Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O apelido foi mal recebido porque traçou um paralelo com o cartel de produtores de combustíveis fósseis. A nova aliança florestal pretende fazer o mesmo com os créditos de carbono? As conotações políticas foram igualmente ruins. “Congo e Indonésia – assim como o Brasil no atual governo – não vivem o melhor momento para a democracia”, disse um observador.
As florestas certamente ganharam destaque na reunião de Sharm el-Sheikh, mas não foi na cidade egípcia que o pacto trinacional foi assinado, e sim a 9.551 quilômetros de distância, em Bali, às margens de uma conferência do G20 presidida pela Indonésia. Foi lá que os três governos concordaram em uma agenda compartilhada para cooperar em meio ambiente, viabilizar políticas comerciais e de desenvolvimento voltadas para a produção sustentável de commodities e negociar um novo mecanismo de financiamento na Convenção das Nações Unidas para a Diversidade Biológica. A Forest Alliance começa assim, com mistério, constrangimentos políticos, dúvidas e algumas intrigas.
Esta não é a primeira tentativa de se construir um grande pacto florestal. Na Cúpula da Terra de 1992 no Rio de Janeiro (Rio-92), a possibilidade de uma convenção-quadro sobre florestas foi discutida, mas não houve consenso. Isso ocorreu em parte porque nem todos os países do mundo têm florestas e também porque o governo brasileiro não via com bons olhos a perspectiva de as florestas serem, digamos, internacionalizadas. Em última análise, a Rio-92 produziu poderosas convenções sobre clima, biodiversidade e desertos, mas apenas uma declaração fraca sobre florestas que deixou o assunto em suspenso. Desde então, a ciência comprovou o papel estratégico das florestas na segurança climática e o assunto ganhou destaque na agenda. O Acordo de Paris de 2015 prevê a estruturação dos mercados de carbono para garantir incentivos às florestas, questão que ainda não foi efetivamente implementada.
Fora das Nações Unidas, outras iniciativas uniram os países com florestas tropicais. O Fundo Amazônia, cuja maior parte do dinheiro é de origem norueguesa, pretende destinar até 20% dos recursos para a cooperação entre países da Amazônia, da bacia do Congo e do Mekong, no Sudeste Asiático. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil (Inpe) também começou a treinar pessoas de outras nações amazônicas para monitorar as taxas de desmatamento. As conversas sobre um pacto trilateral estão borbulhando há alguns anos.
As perspectivas sobre as florestas avançaram nos últimos 30 anos de um papel secundário para um papel mais central. Na COP26, em Glasgow, 110 nações e muitos líderes do setor privado se comprometeram com uma longa lista de compromissos florestais, encabeçados pela promessa de eliminar o desmatamento até 2030. No entanto, como vimos na Amazônia brasileira nos últimos anos, a realidade está muito longe desse objetivo.
Foi também em Glasgow que representantes do Brasil, da Indonésia e do Congo (denominado por alguns como o grupo BIC) se reuniram e assinaram a iniciativa Poder da Floresta para a Ação Climática (Forest Power on Climate Action), como forma de aumentar a influência dos países florestais nas negociações climáticas. Isso foi feito durante o governo Bolsonaro. A ideia era levar o movimento adiante em Sharm el-Sheikh, mas a eleição no Brasil mudou a dinâmica política.
Por que a aliança florestal acabou sendo assinada em Bali e não em Sharm el-Sheikh? Segundo uma fonte, foi questão de perspectiva: “Os indonésios encontraram uma boa desculpa para lançar o comunicado formalizando a aliança em Bali, na abertura do G20, dando mais relevância ao encontro”. Outra teoria é o embaraço político. Ninguém na COP27 queria ser associado ao governo Bolsonaro, que tem péssimo histórico nas áreas de conservação florestal, direitos indígenas e biodiversidade. O governo do ultradireitista, que acabará no final de dezembro, foi responsável por levar a Amazônia quase a um ponto sem volta, um limite que, depois de ultrapassado, impede a floresta de continuar sendo floresta. No G20, que tem um foco mais econômico do que ambiental, não foi o ministro do Meio Ambiente quem assinou o acordo, no dia 14 de novembro, mas o embaixador do Brasil na Indonésia.
O comunicado de seis páginas, que traça o escopo do pacto, tem tom econômico e é um pouco recalcitrante. Nos termos burocráticos da diplomacia internacional, “sublinha”, “reconhece” e “destaca” a importância de assegurar a integridade dos ecossistemas, o conceito de “justiça climática”, o potencial dos produtos baseados na biodiversidade. É por meio do pagamento por serviços ecossistêmicos que espera “agregar valor à conservação, recuperação e manejo sustentável das florestas e engajar o setor privado, povos indígenas e comunidades locais”. O texto menciona ainda o pagamento por desmatamento evitado (como o Fundo Amazônia) ou Redd+, que é o mecanismo de incentivo para países que reduzem emissões de gases-estufa por desmatamento ou degradação florestal.
O foco no manejo e conservação florestal sustentável, a “bioeconomia para pessoas e florestas saudáveis” e a recuperação e restauração de ecossistemas críticos são descritos no texto – mas as palavras não empolgam. O tom da declaração é contido e relativizado, quase temeroso. Não soa como uma tentativa ousada de proteger a floresta e melhorar os meios de subsistência dos povos que vivem nela. Também não soa como um ponto de virada. Foi porque o governo Lula ainda não se pronunciou sobre sua elaboração e operação? Ou foi porque a aliança está tentando fazer algo novo e ninguém sabe o que vai se tornar?
Espera-se que o comunicado dê início a uma era de transição. Dos três países signatários, o Brasil lidera o ranking de desmatamento, seguido pelo Congo. As taxas de destruição florestal da Indonésia, impulsionadas pelas plantações de óleo de palma, produção de papel e mineração, diminuíram nos últimos anos e o país agora ocupa o quarto lugar no ranking de desmatamento tropical, depois da Bolívia.
A questão é se a aliança é uma estrutura que pode funcionar tanto para a natureza quanto para a política e a economia. O dinheiro certamente será importante. Em evento no Brazil Climate Hub, espaço da sociedade brasileira na COP27, Eve Bazaiba Masudi, vice-primeira-ministra do Congo, disse: “Não vendemos oxigênio, obviamente, mas temos que responder a direitos da sociedade. Os africanos têm o direito de mandar suas crianças à escola, ter boas condições de saúde e de segurança”. A África, lembrou ela, poderia se beneficiar de recursos como o cobalto ou o lítio. A mineração é um dos vetores de pressão sobre a floresta no Congo.
Outros viam o pacto mais como um jogo de poder político. “A ideia é fortalecermos a importância de países florestais na negociação climática”, defendeu Agus Justianto, diretor geral de manejo florestal de produção sustentável do Ministério do Meio Ambiente e Florestas da Indonésia.
A ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, Izabella Teixeira, que apoiou a administração anterior do Partido dos Trabalhadores, sugeriu que o pacto precisa ser amplo, mas a chave era derrotar o desmatamento. “A aliança tem que ser política, baseada em democracia, na transição justa e em diversidade”, disse Teixeira, no mesmo evento. “Precisamos tirar o elefante da sala, o desmatamento, que é uma questão que nos liga ao passado”, continuou.
Em seu discurso na COP27, o presidente eleito Lula mencionou a Aliança. Deixou claro que desconhece os termos, mas que apoia a iniciativa em mais uma prova de que o pacto assinado em Bali é um legado que ele herdou em vez de conceber.
Mesmo assim, alguns pesquisadores se mostram otimistas de que Lula pode usar a aliança de forma positiva. “Acho uma boa ideia. São as três regiões com mais floresta tropical e, certamente, as mais prioritárias para a manutenção da biodiversidade no mundo”, diz o biólogo Braulio Dias, ex-secretário executivo da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica (CDB).
O Brasil detém 60% da Amazônia, floresta que divide com oito países. A floresta na região do Congo tem cerca de metade do tamanho da Amazônia e a do Sudeste Asiático, talvez um quarto. Todos os três países têm problemas com democracia e corrupção.
Mais transparência sobre os detalhes ajudaria. Por enquanto, a aliança florestal deixa muitas questões importantes: ela beneficiará povos indígenas e comunidades tradicionais? É apenas uma tática geoestratégica ou um mecanismo de mudança construtiva? Os defensores da floresta devem ficar esperançosos ou preocupados?
Certamente existem ideias ambiciosas que poderiam se beneficiar de um maior financiamento. Em Sharm el-Sheikh, pesquisadores do Painel Científico da Amazônia propuseram dois novos esquemas de reflorestamento maciço: o primeiro seria um corredor de restauração verde começando na Colômbia, passando pelo Peru e Bolívia e chegando ao Maranhão no Brasil; a segunda transformaria a região brasileira conhecida como arco do desmatamento, no Sudeste, Sul e Leste da Amazônia, em um arco de restauração.
Tempo é essencial. A Amazônia já perdeu 18% de sua floresta. “No Sul da Amazônia, a estação mais seca dura cinco semanas a mais. Isso é uma enorme mudança”, disse o cientista Carlos Nobre. Os autores de um policy brief (resumo de políticas) divulgado na COP27 defendem que a restauração em larga escala da floresta pode ser feita cumprindo-se sete metas. O primeiro passo é evitar desmatamento e degradação, restaurar terras públicas recém-desmatadas e, em algumas áreas, apenas deixar a floresta se refazer naturalmente. Evitar a degradação florestal e resolver a questão fundiária das áreas é outro passo importante, diz Jos Barlow, pesquisador da Lancaster University, professor de ecologia da Universidade Federal do Pará, e um dos autores da ideia.
Usada de forma eficaz, a nova aliança florestal pode ajudar o Brasil a fazer lobby por mais fundos para tais projetos e apoiar povos indígenas e outras comunidades tradicionais que provaram ser os guardiões mais eficazes da Amazônia e de outros biomas. Mas, para que isso aconteça, Lula e quem ele escolher como ministros do Meio Ambiente, dos Povos Originários e das Relações Exteriores precisam torná-lo mais transparente, mais responsável e – ao contrário do cartel da Opep – mais benéfico para a natureza.
Traduzido do inglês por Isabel Murray